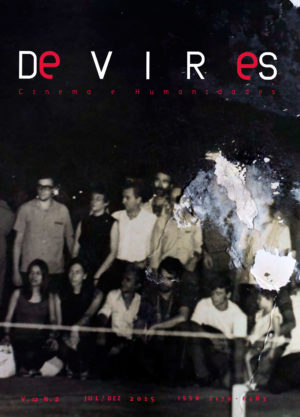Descrição
devires, belo horizonte, v. 13, n. 1, p. 01-188, jan/jun 2016 periodicidade semestral – issn: 1679-8503 (impressa) / 2179-6483 (eletrônica)
Sumário
Apresentação – Anna Karina Bartolomeu, Cláudia Mesquita e Maria Ines Dieuzeide – p.07
POLÍTICAS DO CINEMA E DA FOTOGRAFIA – Como se engajam hoje as imagens?
16 Hoje, o que ver o que mostrar frente ao terror? – reflexões acerca da criação e da difusão das imagens relacionadas ao terror, ao gozo e à morte –
Marie-José Mondzain – p.16
O Sumiço da senzala: tropos da raça na fotografia brasileira – Maurício Lissovsky – p.34
Morte Imagem Viva: circulação das imagens e usos políticos das memórias entre as redes digitais e a cidade em disputa – Jane Cleide de Sousa Maciel – p.66
Pequena história do processo de impedimento de Dilma Rousseff: a deposição da presidenta contada a partir de fotografias – Ana Carolina Lima Santos – p.88
Autorretrato de um outro? Versos e reversos de um olhar para o inimigo – Cristina Teixeira Vieira de Melo, Pedro Severien – p.104
Imagens em disputa: quando o Estado e o povo portam a mesma arma – Paula de Souza Kimo – p.129
Parlatórios para dissensos territoriais – Renata Marquez – p.148
Espectadores – Priscila Mesquita Musa – p.164
Lista de pareceristas – p.186
Apresentação
Anna Karina Bartolomeu
Cláudia Mesquita
Maria Ines Dieuzeide
Ao propor a elaboração de um dossiê dedicado às “Políticas do Cinema e da Fotografia”, a revista Devires buscou reunir contribuições que abordassem experiências e levantassem indagações teóricas e analíticas em torno das potências políticas das imagens no mundo atual. De um lado, interessava-nos a identificação e análise das diversas maneiras como as imagens expressam os dissensos que se manifestam nas cidades – desde as divisões entre centros e periferias, com a correlata distribuição desigual da “condição precária” (BUTLER, 2015),1 até as intervenções no cotidiano do espaço urbano e a insurgência (intempestiva) das manifestações coletivas. De outro lado, parecia- nos urgente reunir contribuições que identificassem e analisassem as diferentes maneiras como uma experiência histórica fraturada por desigualdades e segregações, e marcada por apagamentos e esquecimentos forçados, se inscreve nas imagens e é elaborada na montagem de diferentes obras fílmicas.
Foi com satisfação que recebemos uma grande quantidade de artigos, o que nos mostra que, diante das imensas dificuldades do nosso tempo, o cinema e a fotografia seguem buscando formas para operar criticamente, expondo disputas, elaborando diálogos, memórias, histórias, reconfigurações do espaço ou do tempo. A diversidade dos textos, que exploram obras distintas a partir de múltiplas abordagens analíticas, resultou num amplo dossiê multiplicado em três números, que foram organizados em torno de eixos específicos: o primeiro articula as reflexões em torno das imagens do presente em disputa; o segundo lida com os vestígios e as escritas da história; e o terceiro articula análises mais diversificadas, que têm em comum a busca por formas e procedimentos cinematográficos propositores de arranjos complexos de tempo e espaço.
O primeiro número do dossiê, “Como se engajam hoje as imagens?”, está composto por uma série de artigos críticos que buscam – em sua abordagem das imagens – dar forma a inquietações sociais e políticas muito vivas, prementes. Há vários cruzamentos e diálogos possíveis entre os textos. É o caso da abordagem de imagens que inscrevem lutas e disputas (elas também sendo objeto de disputa) pelos espaços públicos no Brasil, a partir de 2013. Problemas históricos irresolvidos, que se atualizam sem cessar no Brasil, como o racismo, ganham abordagem renovada neste número do dossiê, em mais de um artigo. Marca também o primeiro número a preocupação com a problemática da circulação e consumo de imagens de violência e morte.
Ela norteia o texto de abertura do dossiê, “Hoje, o que ver e o que mostrar frente ao terror? – reflexões acerca da criação e da difusão das imagens relacionadas ao terror, ao gozo e à morte”, de Marie-José Mondzain. Nesse ensaio contundente, a filósofa retoma preocupações que têm movido a sua reflexão,2 perguntando-se sobre que o pode o cinema frente a uma situação planetária na qual “o medo e todas as figuras do terror” se tornaram “as modalidades mais fortes dos laços sociais”. Em um mundo no qual a obsessão por segurança, promovida sem cessar pela mídia, substitui todo e qualquer programa político, em que a figura da paz social se tornou pretexto “para toda política interior baseada na exclusão”, torna-se urgente criar condições para a construção e transmissão de narrativas críticas, que nos ofereçam meios de “resistir ao medo e de não sucumbir à violência desproporcional, à vingança e à guerra sem fim”.
Com essas problematizações fundamentais, Mondzain retorna ao 11 de setembro, identificando nele o episódio inaugural de uma nova fase da comunicação da guerra, “uma virada na gestão econômica e técnica do espetáculo do terror, que passa a operar sob o signo da performance”. Hoje destinados à comunidade mundial de telespectadores e aos usuários cotidianos da plataforma youtube, os gestos assassinos, difundidos e distribuídos ilimitadamente, ameaçam a dimensão potencialmente emancipatória e catártica da performance, que Mondzain vai buscar em Aristóteles. São “contra-performances”, nos diz a autora: não dão forma ao informe, às pulsões mortais que nos habitam; não constroem “um olhar comum sobre o pior” que dele tire algum benefício, estimulando a capacidade de ação política dos espectadores; distribuídas em tempo real, essas imagens tampouco oferecem a dilatação temporal necessária a um processo simbólico. Ao cinema, resta então o desafio de elaborar um ritmo que não decapite o pensamento, de modo a expandir a potência transformadora e a energia criadora de quem assiste. Pois “criar é abandonar a fila dos assassinos”.
Na primeira parte do dossiê, reunimos ainda três ensaios que constroem, a partir de fotografias (e de seus fluxos midiáticos), reflexões extremamente atuais sobre a agência das imagens (nos processos políticos em curso), o seu “retorno” (trazendo à tona violências passadas soterradas), ou os modos como figuram aspectos decisivos da experiência social no Brasil – podendo ainda reivindicar outros olhares.
No segundo ensaio do número, “O sumiço da senzala: tropos da raça na fotografia brasileira”, Maurício Lissovsky parte da capa da edição comemorativa dos 80 anos de Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, lançada em 2013. Ela exibe uma “magnífica casa senhorial”, iluminada como em uma novela de TV. “O que aconteceu com a senzala que esteve na capa do livro nas dezenas de edições anteriores?”, indaga o autor. É esse “desaparecimento perturbador” que o instiga a trilhar uma rica investigação das figurações da raça na fotografia, identificando tropos que lhe permitem observar deslocamentos, substituições, rearranjos, reveladores do imaginário brasileiro contemporâneo sobre a escravidão. Se a “imaginação da casa grande terminou por ocupar a senzala”, como sugere Lissovsky, esmaecendo e tornando “cada vez mais remotas as imagens da escravidão no Brasil”, nada desaparece completamente da memória. “Banido do imaginário casa-grande dominante”, o fantasma do negro da senzala retorna na fotografia de diversas maneiras, como demonstra o autor, através do comentário contundente a algumas imagens que circularam na mídia brasileira (como a do garoto negro espancado e preso pelo pescoço a um poste). Pois “quanto mais a casa-grande que habita em nós der livre curso à onipotência imaginária de seus desejos”, argumenta, “mais real e violento será o retorno das imagens de sofrimento que concordamos em soterrar”.
“Morte imagem viva”, de Jane Cleide de Sousa Maciel, tece uma reflexão sobre a “vida” de imagens que remetem a mortos, precisamente a vítimas da violência do Estado no Brasil. Desse modo, articula problemáticas presentes nos artigos de Mondzain e Lissovsky, que lhe antecedem no volume. Partindo de fotografias que mostram Amarildo Dias de Souza e Cláudia Silva Ferreira, a autora examina os modos como, em seus fluxos pelas redes digitais, as imagens mobilizam mediações políticas e podem manifestar o “dano” (RANCIÈRE, 1996) diante da desigualdade, do racismo e da afronta à liberdade no Brasil. “Em vez de uma atitude sensacionalista de produção e circulação de imagens de mortos que geram efeitos ambíguos entre fascínio e indiferença na recepção”, argumenta a autora, “consideramos que a constituição processual das conexões de imagens permite compreender como a morte assume o status de uma imagem viva, que assombra os mecanismos opressivos que perduram pela impunidade”. Em seus fluxos, as imagens de Amarildo e Claudia mobilizam, por exemplo, o resgate de memórias soterradas e renegadas, ao serem associadas à escravidão (no caso de Claudia), ou aos mortos e desaparecidos pela ditadura (no caso de Amarildo).
“Pequena história do processo de impedimento”, de Ana Carolina Lima Santos, detém-se em duas fotografias que retratam Dilma Rousseff, realizadas e veiculadas durante o processo que culminou no impeachment. A partir delas, a autora busca evidenciar como a história recente foi também conformada pelas imagens, que tomaram parte ativa, em sua hipótese, no desfecho do processo de impedimento da presidenta. Recorrendo aos escritos de Benjamin e de Lissovsky, Ana Carolina trabalha imagens que produzem, em sua leitura, um “adensamento temporal em que passado e futuro se tocam no agora”: “no primeiro caso, o presente se acelera ao futuro e, no segundo, o presente regressa ao passado”. Assim, a primeira imagem analisada no artigo sela o destino de Dilma, condenando-a “à fogueira” antes mesmo da votação do impeachment no Congresso. Já a segunda imagem atualiza a guerrilheira na forma da presidenta (que luta agora contra novos algozes), ao mesmo tempo em que “a presidenta pôde ser atualizada por meio da guerrilheira, como representante da resistência democrática”.
Na segunda parte do número, reunimos quatro ensaios que trabalham, a partir de entradas diversas, a presença e os usos das imagens em manifestações populares, lutas e disputas pelo espaço público em grandes cidades brasileiras, sobretudo a partir de 2013. Nesses processos, as imagens não apenas instauram um campo de disputa, como escreve Paula Kimo em seu artigo, “como é ela mesma alvo da disputa”. Nalguns artigos dessa série, inclui-se o exame de trabalhos artísticos que retomam imagens produzidas em situações de conflito e urgência, de modo a fabricar, na expressão de Renata Marquez, “novos imaginários compartilháveis”.
“Autorretrato de um outro? Versos e reversos de um olhar para o inimigo”, de Cristina Teixeira Vieira de Melo e Pedro Severien, ensaia em torno do curta Autorretrato (2012), de autoria anônima, buscando identificar como o vídeo propõe intervir na disputa política, em curso, de um projeto de cidade para o Recife. Fortemente engajada na resistência e crítica às políticas e projetos neoliberais que modificam drasticamente a experiência na cidade, cresce em Recife a produção audiovisual gestada em associação com movimentos sociais já consolidados ou recentes (caso do movimento Ocupe Estelita, surgido da resistência ao projeto Novo Recife). Ao filmar, sem o seu consentimento, Eduardo Moura – dono de uma das empreiteiras proponentes do Novo Recife, projeto que visava a construção de 13 torres de luxo em uma área histórica no centro da cidade –, Autorretrato restitui ao espaço público, na hipótese dos autores, uma imagem que costuma ser preservada nas narrativas hegemônicas da mídia, instaurando-se uma cena dissensual.
No conjunto de imagens que percorre, produzidas em manifestações populares no Brasil, o artigo “Imagens em disputa: quando o Estado e o povo portam a mesma arma”, de Paula Kimo, também se volta sobre o gesto de filmar o inimigo – e de ser filmado por ele. Trata-se, nesse caso, de imagens que filmam a polícia e de imagens filmadas por policiais. Como esclarece a autora, “uma câmera assume o papel ativista de vigiar e denunciar a ação policial e a outra mapeia e criminaliza as ações dos manifestantes”. Para cotejar essas funções divergentes atribuídas às imagens, o artigo se debruça sobre dois conjuntos: uma série de planos sequência filmados na cidade de Belo Horizonte e exibidos na Mostra Os Brutos (2013 e 2015), organizada por Daniel Carneiro, na qual manifestantes filmam a Polícia Militar; e as imagens que compõem a vídeo instalação Não é sobre sapatos (2014), de Gabriel Mascaro, ao que tudo indica produzidas pela própria corporação ao filmar os manifestantes. Com o cotejo proposto, a autora descortina aspectos fundamentais das atuais disputas por imagens no Brasil.
“Parlatórios para dissensos territoriais”, de Renata Marquez, examina quatro trabalhos artísticos reunidos na exposição “Escavar o futuro” (Belo Horizonte, 2013). Inaugurada seis meses após as manifestações de junho de 2013, o processo curatorial da exposição foi, nas palavras da autora e curadora, “fortemente influenciado pela recente experiência das ruas – uma experiência sobretudo estética, (…) no sentido do desejo de instaurar um certo regime de sensibilidades”. Dentre os quatro “processos de imagem” (“ou filmes resolutamente incompletos”) a que o artigo se dedica, inclui-se também Os Brutos – coleção de imagens feitas durante as manifestações de 2013, analisada no artigo anterior do dossiê. Interessado na emergência de práticas artísticas “atentas às problemáticas do mundo” e à produção de processos de imagem “com especial interesse expositivo- epistemológico”, o artigo analisa os dissensos territoriais condensados em trabalhos que organizam práticas espaciais – eixo transdisciplinar comum à arte, à arquitetura e à vida cotidiana – segundo processos políticos coletivos (e não segundo o ditame de “produtos” artísticos finais).
Por fim, encerra o primeiro número do dossiê o artigo “Espectadores”, de Priscila Musa, que também se volta para um conjunto de imagens realizadas nas ruas de Belo Horizonte, em meio a movimentos de ocupação e disputa do espaço público. Fotografias que, a seu modo, participam de um processo de lutas, mas que também ensejam reflexões sobre as fronteiras que são traçadas entre moradores (de regiões diretamente afetadas por projetos agressivos e ilegítimos de reforma urbana propostos pelo poder público) e manifestantes de classe média, que atuam em favor dos primeiros. A partir das imagens de moradores que observam, de suas janelas e sacadas, sem descer para as ruas ocupadas por manifestantes, a autora pergunta-se: “quem seriam ou, antes, o que seriam os espectadores?” (“espectadores menos como quem vê desde um lugar passivo e mais como quem se relaciona com o mundo do outro, em movimento”). Assim, se os movimentos de ocupação do espaço público constituem um espaço- tempo comum, para “partilha de uma cidade que se constitui com o outro”, esse espaço será sempre fissurado, revelam-nos as imagens comentadas – e em sua maioria realizadas – por Priscila.
Notas:
1. Ver BUTLER, Judith. Quadros de guerra – quando a vida é passível de luto? Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2015.
2. Ver MONDZAIN, Marie- José. L’image peut-elle tuer? Montrouge: Bayard Éditions, 2015; e Les images zonards ou la liberté clandestine. In: CAVALCANTI, Ana Maria et al (org). ANAIS DO XXXII COLÓQUIO CBHA – Direções e Sentidos da História da Arte. Universidade de Brasília, 2012.