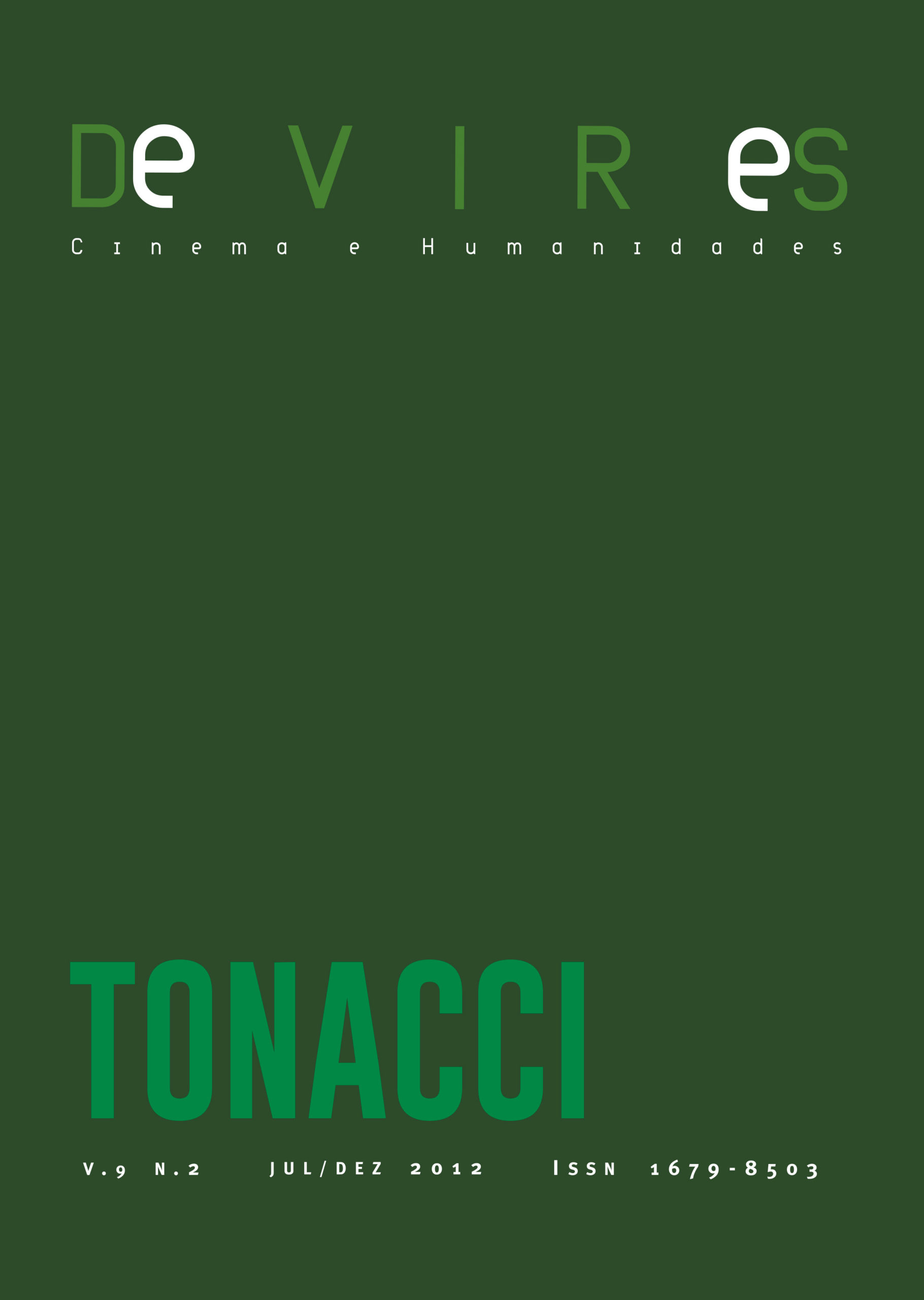Descrição
devires, belo horizonte, v. 9, n. 2, p. 01-201, jul/dez 2012 – issn: 1679-8503
Sumário
Apresentação – André Brasil e Cláudia Mesquita – p.07
Dossiê: Andrea Tonacci
16 O teatro do mundo, de Calderón de la Barca, a máquina-olho, de Victor Garcia, e a câmera lúcida, de Andrea Tonacci – Ismail Xavier e Luciana Canton Bermudes – p.16
Os Arara: imagens do contato – Clarisse Castro Alvarenga – p.34
Atração e espera: notas sobre os fragmentos não montados de Os Arara – César Guimarães – p.50
A-filiação em Serras da desordem – Ivone Margulies – p.70
Do arquivo ao filme: sobre Já visto jamais visto – Patrícia Mourão – p.92
Fotogramas comentados – p.106
Andrea Tonacci
Entrevista
Devir-Tonacci – André Brasil, César Guimarães e Cláudia Mesquita – p.114
Testemunhos
O cinema, o afeto e a profissão da dúvida – Cristina Amaral – p.146
O cinema de Andrea Tonacci – um depoimento ao rodar o projeto Paixões, incluído em Já visto jamais visto (2013) – Joel Yamaji – p.151
Já visto jamais visto: o tempo como personagem às avessas – Luiz Rosemberg Filho – p.156
Documentos – p.162
Filmografia – p.196
Normas de publicação – p.200
Apresentação
André Brasil
Cláudia Mesquita
A ironia de Tonacci é fazer a engrenagem girar em falso, especialmente a da comunicação, de modo a ressaltar que, acima de tudo, para os parceiros envolvidos no jogo, o fundamental é redefinir os termos da conversa, o estilo da caminhada, antes de correr com o olhar dogmático fixado na meta, no objetivo, no produto, possível miragem que escamoteia os dados mais efetivos do processo. Pois este é vida concreta.
Ismail Xavier, “Os transgressores de todas as regras”
A vocação profunda de Tonacci parece ser o mistério da realidade, mas ele circula à vontade entre diferentes pólos e estilos narrativos. É preciso sublinhar o talento todo especial com que filma automóveis, de dentro ou de fora, parados ou em movimento.
Paulo Emílio Salles Gomes, “Os exibidores se esqueceram desse filme”
Em sequência emblemática de Serras da desordem (2006), Carapiru viaja no banco traseiro do carro, rumo à Brasília, onde terá um encontro dissonante com a arquitetura modernista e de onde será levado de volta a seu grupo de origem. Depois de dez anos de perambulação pelo sertão da Bahia, o destino agora parece preciso: contudo, perdido no extracampo, o olhar de Carapiru mira outra direção. Pela janela do carro, vemos cercas, propriedades, territórios em conflito, mas o olhar vai além, onde nem a vista alcança: ali, nesse espaço fora de campo, ele guarda o enigma, que se assenta parcialmente em sua liminaridade. A errância de Carapiru atravessa a de Tonacci; quando o personagem aparece nas telas dos cinemas, em 2006, ressurge com ele o diretor, um dos mais relevantes cineastas em atividade no País. O superlativo é necessário para sublinhar o fato, no mínimo desconcertante, de que este diretor tenha tido, durante esses tantos anos, enormes dificuldades para realizar (e preservar!) seus filmes, recusando-se a adaptar-se às leis de incentivo, em última análise, às leis do mercado. Trata-se de um cinema que valoriza o processo em detrimento do resultado imediato, mas que, em contrapartida, exercita o rigor e a concentração em recusa ao voluntarismo; um trabalho vigoroso e exigente que se endereça ao espectador sem complacência.
Em seu primeiro filme, o curta Olho por olho (1965), o carro já aparece como espaço privilegiado de mise-en-scène: ali, os personagens participam de uma interação “esfiapada”, feita de frases soltas e gestos displicentes; transitam pelas ruas, em um travelling entrecortado por sucessivos jumpcuts. A ficção transcorre dentro, mas é constantemente atravessada pelo fora, por flashes da vida na cidade que se deixa entrever pela janela, entre um corte e outro, entre uma e outra superexposição. Os atores – amigos do diretor – inscrevem na película gestos e trejeitos de uma época. Ainda que este filme recorra enfaticamente a certa estilística cinematográfica, o zelo formal é indissociável de um maneirismo dos corpos vinculado ao habitus. Já nessa obra de juventude, o cinema de Andrea Tonacci sugere àqueles que se propõem a pensá-lo a tarefa de não separar os aspectos formais e expressivos de sua dimensão, digamos, pragmática ou histórica, ou seja, daqueles aspectos que, vindos do vivido, atravessam o filme deixando nele um gesto, um olhar, um ruído, uma sobra, uma “borra”.
Nesse cinema, cuja chave de leitura tem sido a do processo,1 a experiência de produção do filme (que pode durar muitos anos), a experiência histórica (cifrada na cidade, nos corpos e atitudes dos personagens; nas imagens de arquivo) e a escritura fílmica (força do enquadramento que se preserva na montagem) estão de tal forma imbricadas que seria redutor separar uma da outra. Em sua clássica cena de abertura, Bang bang (1971) retoma o automóvel, à deriva, enquanto passageiro e taxista brigam. O nonsense torna-se ainda mais aflitivo pois entrecortado pelos constantes e ruidosos problemas no câmbio. A sequência se repete, levando o espectador à exaustão e a narrativa a uma circularidade pouco fluente. Ismail Xavier já notara a centralidade da sequência do táxi, chave para o andamento do filme, no qual “o percurso é ocasião para um diálogo numa direção oblíqua que sequestra o interesse e a atenção, em detrimento de um suposto desenlace ou destino do passeio”.2
Como lembra o próprio Tonacci na entrevista que integra esta edição, Bang bang é um filme ainda mais exasperado que os anteriores, uma experiência de ruptura estético-política, espécie de “exorcismo” por meio do cinema. Se Olho por olho e Bla bla bla já apontam para certo esgotamento do discurso político, para sua dimensão farsesca, Bang bang parece tensionar a representação até seu esgarçamento ou seu estilhaçamento: para tanto o filme sequestra a teleologia e inclui a câmera na cena deste sequestro.
Até Bang bang, Tonacci endereça seus investimentos prioritariamente ao cinema, ainda que para estilhaçá-lo, para levar a representação (seja ela política ou estética) à extrema e anárquica desconstrução. A busca de uma resposta à “crise” – sempre a um só tempo cinematográfica e existencial – se realiza sob o modo de forte engajamento no real. Ela se nota em duas experiências, agora de acento documentário: Interprete mais, pague mais (1975) e Conversas no Maranhão (1977). Aqui, o cinema se concebe mais marcadamente como práxis (em direção à teatralidade, no primeiro caso, e em direção à etnografia, no segundo) e, valorizado o momento da tomada, Tonacci se revela um exímio fotógrafo, sem negligenciar o “efeito-câmera”, esta que não apenas registra, mas faz precipitar a cena.
Em Interprete mais, pague mais, ele filma “em direto” os ensaios – em vias de se colapsar – da montagem dos Autos sacramentais, de Calderón de la Barca, dirigida por Victor Garcia sob a produção de Ruth Escobar, em turnê do grupo teatral ao Irã e à Europa. Como bem observam Ismail Xavier e Luciana Canton, a câmera “não apenas dá testemunho da crise, mas tem um papel de catalisadora da performance em passagens decisivas”. Atentos às relações entre cinema e teatralidade, os autores acompanham o jogo de performances e poderes até o “extraordinário lance final”, quando o filme revela – em um cenário já esvaziado após o momento da crise – a presença do cinema como tensionador da cena teatral, a receber a piscadela do ator.
Ainda que se construa na mise-en-abyme do ensaio de uma encenação,3 não é pouca coisa que o filme comece com o plano enigmático de uma mulher iraniana, acompanhada dos filhos, frente a uma construção de pedra. Em meio à quase total imobilidade do lugar, ela espanta uma mosca que a incomoda. “A mosca podia ser eu”, nos diz Tonacci.4 Mas, pode ser também o real – seu grão oscilante – que, insistente, se inscreve no quadro cinematográfico.
O engajamento por meio do cinema levará Tonacci, em outra via, a filmar entre os índios, experiência que se inaugura com Conversas no Maranhão (1977). Realizado entre os Canela Apãniekrã, posicionando-se ao lado dos índios no conflito em torno da demarcação de suas terras, o filme abre-se à auto-mise-en-scène dos sujeitos, sendo, em certa medida, por eles dirigido. Se em Interprete mais, a câmera é “lúcida” diante da máquina teatral na iminência da pane, em Conversas, ela é tomada por uma espécie de vidência; não apenas acompanha os acontecimentos, mas, no cruzamento entre visão e escuta (aqui amplificada), quase se antecipa a eles, o que lhe confere impressionante precisão, em meio a um universo sobre o qual o conhecimento e o domínio são mínimos.5
Além de um rico acervo de imagens que urge recuperar, a experiência com os índios resulta também em Os Arara (1980- 83), série de três episódios realizada para a TV Bandeirantes, cujo terceiro permaneceu inacabado, por conta de desavenças com a emissora. Nas duas primeiras partes da série, a atenção ao trabalho da Frente de Atração da Funai mantém os índios fora de campo, e na última parte – não montada – os Arara aparecem, atualizando diante da câmera a cena do primeiro contato. Se em outros registros cinematográficos de situações afins, a câmera avança, assumindo em certo sentido o “olhar” do colonizador, aqui, ela se aproxima com cuidado, hesita, enquadra obliquamente, tateia os corpos dos índios, é por eles tocada. Como bem mostra Clarisse Alvarenga neste dossiê, diante das limitações impostas ao “ver” por toda sorte de situações nas quais atua o invisível, a câmera precisa recorrer ao tato. Na série Os Arara, devemos, portanto, nos atentar não apenas ao campo e ao extracampo, mas ao tocável e ao intocável, em um regime que é não só o da visão, mas o da visão tornada tato. A autora chama a atenção à dimensão sensível própria do equívoco constituinte da cena do contato: algo que o olho do espírito não alcança e que o corpo deverá tatear, tanger, enlaçar.
Ainda sobre Os Arara, César Guimarães comenta a relação entre quem filma e quem é filmado, com atenção ao enquadramento dos corpos. De um lado, ao filmar, Tonacci não reitera os códigos de reconhecimento habituais em situação de primeiro contato, fazendo valer a mediação da câmera: “suas coordenadas espaciais vacilam sem ruir”. É todo um regime do visível que se desnorteia com a presença dos Arara. Por outro lado, estes vão impondo uma espécie de reversibilidade, que se nota, agora sutilmente, pelos olhares dirigidos à câmera, “suavemente esquivos à frontalidade, endereçados a distintas direções (dentro e fora de campo)”. Por todas estas razões, ao retomar a cena originária do contato, a serie inaugura “uma outra qualidade de presença no espaço, não mais da ordem culpada da ocupação, nem tampouco da ordem condenada do abandono”.6
A cena não montada – o primeiro contato com os Arara – prenuncia o desastre que se seguirá; desastre que será o de vários outros grupos indígenas e de que a errância de Carapiru em Serras da desordem fará uma espécie de alegoria. Para Ivone Margulies, o filme produz uma “des-originação estética”, marcando o que denomina de a-filiação: esta é conformada e mantida viva no filme, por meio da “nudez trajada por Carapiru” e de sua “presença despojada de essência”. Podemos retomar a sugestão de César Guimarães – a de que a ficção de Serras da desordem “acolhe” Carapiru depois da “imensa fratura” que cindiu sua vida.7 Para tal, a ficção terá, ela própria, que se cindir, atravessada pela trajetória pessoal e histórica do personagem, que porta consigo, nas palavras de Margulies, “o trauma multissecular dos índios”.
Traço estilístico que vem se enfatizando na obra de Tonacci, é o modo como ele trama temporalidades distintas, criando, a cada filme, um enredamento singular. Ainda que este traço varie de trabalho para trabalho, permanece a atenção concentrada no presente da filmagem (que pode se estender por anos) e nos ecos e sinais que este presente guarda da experiência histórica (algo que se retoma, seja pelo uso peculiar da reencenação, seja pela convocação paratática, por contato, das imagens de arquivo). Tomada como processo e como arquivo, a imagem exige, por isso, um engajamento vital tanto em seu momento de produção quanto de sua organização e preservação em um acervo pessoal, somente em parte trabalhado na montagem. Tonacci é, nesse sentido, fotógrafo de olhar disjuntivo: um olho atento à situação filmada e o outro à história que a atravessa. Ele é, em complemento, um minucioso arquivista. Essa segunda faceta começa a vir mais fortemente à tona em um filme como Já visto jamais visto (2013), no qual recupera imagens realizadas no decorrer das últimas quatro décadas para compor uma espécie de sonho. “Esse sonho”, nos diz Patrícia Mourão, “é a própria vida tornada estranha e distante por força do tempo e do esquecimento”. Em seu novo filme, Tonacci volta às imagens da infância, às próprias e às do filho, personagem de uma ficção inacabada, chamada Paixões. Novamente, e com mais ênfase, cria um filme multitemporal, sem vínculos claros entre um e outro tempo, mas antes voltado a “identificar as sobrevivências e coincidências, os ecos e rimas de um tempo no outro”. Jamais visto sugere ainda a relação de Tonacci com o mundo, o modo como é mediada pelo filme. Trata-se sempre de um “eu” que se constrói na relação – ao mesmo tempo atenta e aberta – com o outro, cujo resultado é menos uma explicação do que uma aproximação, uma montagem.
Movido pela obra deste cineasta singular, o presente dossiê surge de um desejo amparado por uma intuição: o de fazer uma edição não apenas com textos “sobre” o cinema de Andrea Tonacci, mas “com” muitas imagens dos filmes e do contexto de sua produção e circulação. A intuição é a de que, sim, ele dispunha destas imagens e da disponibilidade em nos receber com tempo necessário para elas. Um dia na casa do diretor, dedicado à conversa publicada neste número, nos possibilitou rever alguns dos filmes, ver as fotos organizadas com esmero em seu arquivo pessoal, tomar ciência de suas pinturas – algumas retomadas em Jamais visto –, de seus diários e projetos. As imagens e a disponibilidade – tanto de Tonacci quanto de Cris Amaral, companheira e montadora de seus filmes recentes – continuaram em inúmeros emails subsequentes.
Os artigos selecionados para compor o dossiê abordam, em sua maior parte, trabalhos com fortuna crítica relativamente incipiente. No caso de Serras da desordem, filme que já acumulou leituras à altura, trata-se de uma análise sofisticada, que, sem perder de vista as opções fílmicas, leva adiante a articulação do cinema com a antropologia, que tanto nos interessa. Nas seções seguintes, o formato editorial da Devires se altera para assumir marcadamente um caráter documental e testemunhal, que se inicia com a presença do próprio Tonacci: em “Fotogramas Comentados”, ele aceitou o desafio de escrever sobre algumas imagens de seus filmes, demonstrando mais uma vez como as formas de expressão atravessam e são atravessadas pelas formas do vivido. Em “Testemunhos”, convidamos alguns parceiros de Tonacci, de cinema e de vida, a registrarem vivências, trocas, sentimentos e processos, em textos pessoais que escapam dos registros costumeiros (da crítica ou da pesquisa acadêmica) para nos revelarem algo deste “desconhecido, o devir de uma autoimagem do ponto de vista de outro”, como nos disse Tonacci certa vez.
E por fim, na seção “Documentos”, recuperamos artigos publicados em revistas e jornais, quando do lançamento ou da revisão de alguns filmes – especificamente Bang bang, Conversas no Maranhão e Os Arara –, de modo a retomar o debate que se estabeleceu, no “calor da hora”, provocado pelas obras, ou que se acendeu com sua retomada, passados alguns anos do lançamento. Os textos – muitos deles com argumentos de fôlego – mantêm sua atualidade e pertinência. Privilegiamos abordagens de filmes que não foram contemplados pelos artigos reunidos no dossiê – em especial, Bang bang, notável longa de estreia cujo impacto e surpresa está registrado nos belos textos críticos selecionados aqui.
Já a entrevista foi realizada ao longo de um dia – entre o quintal, a sala de televisão e a sala de montagem; entre filmes, fotos e boa comida caseira. Como relatamos no texto de abertura, o roteiro prévio foi sendo transformado pela disponibilidade de Tonacci e pelas pequenas surpresas que ele ia nos oferecendo. No quintal, em torno de uma grande mesa, conduzíamos a conversa, literalmente, ao sabor do vento e dos filmes. Ao lado, como descobriríamos mais tarde, estava estacionado o Santana Quantum 1988, o mesmo carro que levou Tonacci em suas viagens pelo país, e que conduziu Carapiru, do sertão da Bahia a Brasília, da viagem errante às narrativas midiáticas e à “captura” pelas instituições nacionais, da solidão qualquer ao percurso emblemático. Esse é um estatuto que Tonacci não recusa, mas a que devolve opacidade, complexidade e mistério (“o mistério da realidade”, para lembrar Paulo Emílio).
Notas:
1. Sobre a noção de “processo”, cf. Ismail Xavier, em Alegorias do subdesenvolvimento, 1993 e 2012; além de texto do autor sobre Serras da desordem, As artimanhas do fogo, para além do encanto e do mistério. In: CAETANO, Daniel (Org.). Serras da desordem. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2008. Na esteira de Xavier, indicamos ainda a conferência de Cláudia Mesquita, Obras em processo ou processo como obra?, no ciclo “Cinema Brasileiro Anos 2000: 10 questões”, Centro Cultural Banco do Brasil, 5 de maio de 2011, Rio de Janeiro. Disponível em <www.revistacinetica.com. br/ anos2000/questao9.php>. Acesso em: 30 out. 2013.
2. Cf. artigo de Ismail Xavier, “Os transgressores de todas as regras”, Folha de São Paulo, 17 de maio de 1986. Republicado na seção “Documentos” deste dossiê.
3. Promissor seria o cotejo entre Interprete mais e Moscou (2009), filme de Eduardo Coutinho com o grupo de teatro Galpão.
4. Cf. artigo de Ismail Xavier e Luciana Canton e “Fotogramas comentados”, por Andrea Tonacci, nesta edição.
5. Cf. comentário de Patrícia Mourão no artigo Do arquivo ao filme: Já visto jamais visto, neste dossiê.
6. Cf. texto de Stella Senra, “As duas viagens – a propósito de Os Arara”, publicado na revista Arte em São Paulo, jul./ago. 1983, e republicado na seção “Documentos” deste dossiê.
7. Cf. entrevista “Devir-Tonacci”, neste dossiê.